O protagonismo político do sul capixaba, que durou até após o meado do século passado esteve assentado no dinamismo socioeconômico de Cachoeiro de Itapemirim, sobretudo após o processo de industrialização da cidade, no governo do cachoeirense Jerônimo Monteiro, no início do século XX, além da pujança da economia agropecuária no restante da região, beneficiada com a construção da estrada de ferro Caravelas, posteriormente transferida à Leopoldina, ligando Cachoeiro à Alegre e depois se estendendo até Carangola, em Minas Gerais.
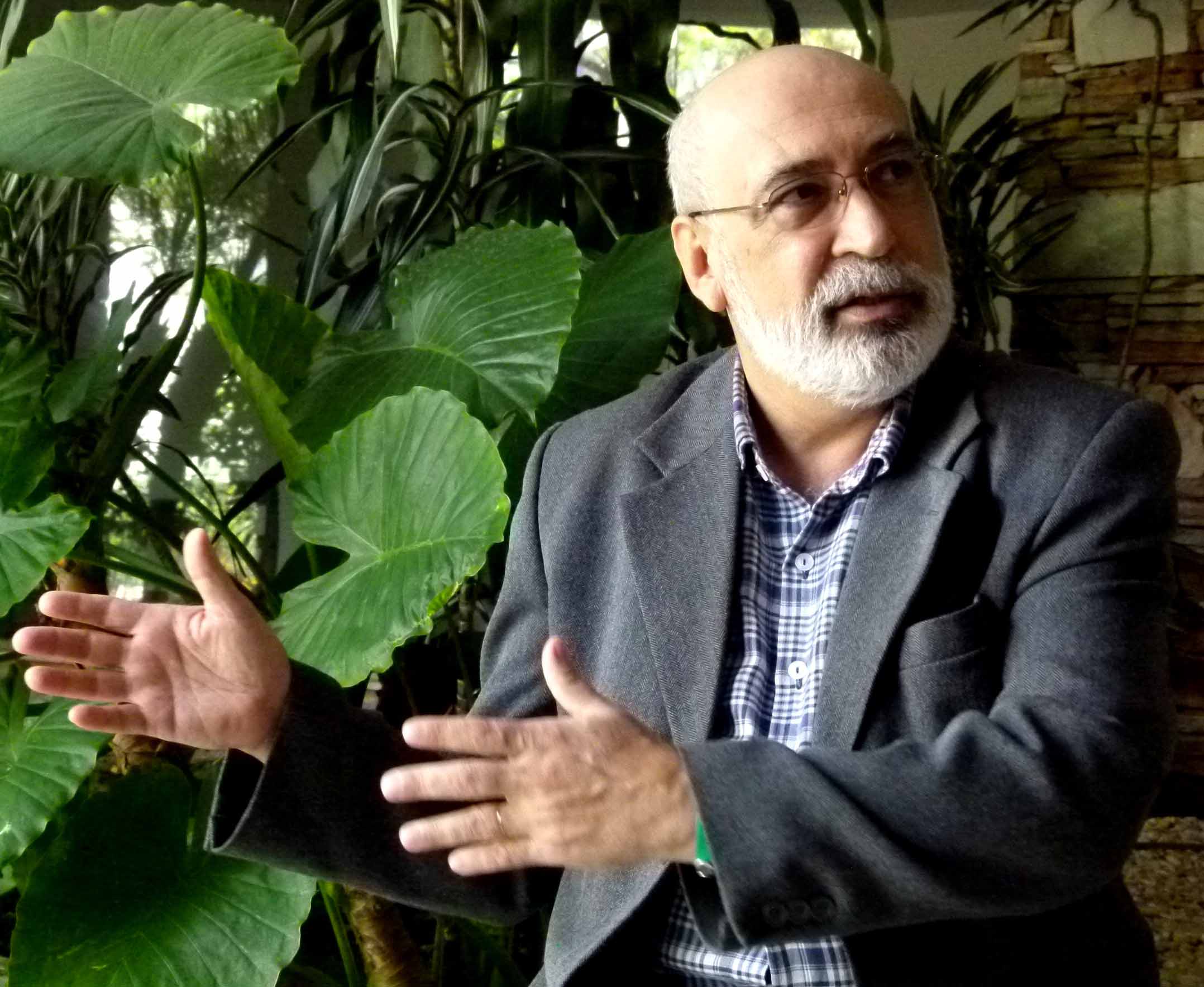
A partir dos anos 1960, o dinamismo econômico se deslocou do Sul para a atual região metropolitana, com os grandes investimentos industriais e de infraestrutura portuária, associada à expansão da exportação de minério pela Vale. Concomitantemente, se expandiu a ocupação territorial do Norte do Estado, em grande parte patrocinada pelos latifundiários sulistas, que se deslocavam para lá, em busca de terras mais baratas, ainda cobertas de matas, para implantação de projetos agropecuários.
O Sul entrou então num processo de estagnação seguido de uma longa depressão econômica e social, que foi marcada pela desindustrialização e pela perda de dinamismo de sua economia, que continuou baseada numa atividade agropecuária tecnologicamente atrasada, de baixa produtividade e competitividade. Não por acaso, o Sul, incluindo a região do Caparaó, tem os municípios de mais baixo IDH do estado.
A região Sul capixaba tem patrimônio natural e paisagístico que deve alavancar um amplo e robusto programa de desenvolvimento regional, baseado numa governança territorial compatível com a sua orografia, aproveitando os potencias turísticos do litoral sul, do Caparaó e das serranias dominadas pelos pontões rochosos, que se estendem do Caparaó até o litoral, com penhascos de encher os olhos; as atividades econômicas tradicionais como o mármore e o granito; e um novo modelo de desenvolvimento rural.
Além das atividades citadas acima, a vocação do Sul não está nos grandes negócios, embora possa haver espaço para eles, mas no desenvolvimento do ecoturismo e do turismo rural, de uma agricultura de baixo carbono, de base familiar e cooperada, com tecnologias que assegurem uma atividade agrícola de grande produtividade e competitiva, ou seja, uma agricultura de montanha, levando em conta a sinergia floresta, solo e água, o que não soubemos fazer até hoje, mesmo com novas técnicas de cultivo, que já é possível encontrar na própria região, a presença do Centro de Ciências Agrárias da UFES e os exemplos da região serrana.
Enquanto o símbolo da agricultura sulina for o trator arrastando um arado de morro acima, a decadência vai perdurar. E não vale o argumento de que agricultura competitiva é coisa para as terras planas, como se ouve, mesmo nos meios acadêmicos. Dois séculos antes da chegada de Colombo, os Incas já sabiam cultivar em curva de nível, fazer terraceamento e controlar a erosão das terras.
Está na mão das lideranças locais e das autoridades estaduais encontrar um caminho. O caminho existe, mas não basta clamar por ajuda, sem o engajamento e a mobilização da própria sociedade. Com a palavra as entidades de classe do setor produtivo, as organizações da sociedade civil, destacando-se o papel do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim e o Consórcio Intermunicipal do Caparaó. Cachoeiro, como a maior cidade do interior do Estado e polo regional, também, não pode fugir do seu protagonismo natural e liderar, com os demais municípios, a busca por um novo período de prosperidade para o Sul capixaba.
JOSÉ CARLOS CARVALHO
Engenheiro Florestal e ex-ministro de Estado do Meio Ambiente






